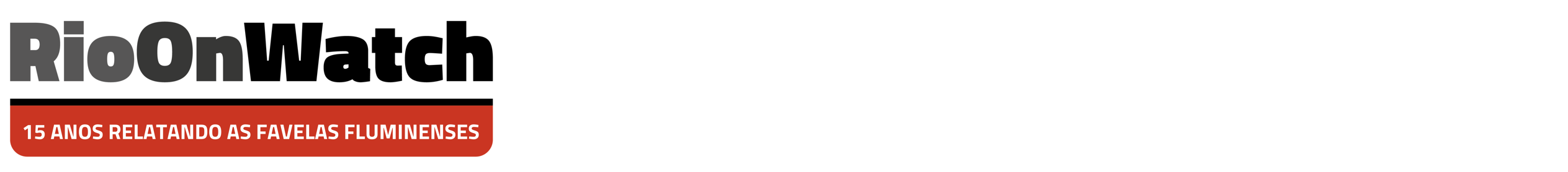Click Here for English
Esta matéria faz parte de uma série gerada por uma parceria com o Digital Brazil Project do Centro Behner Stiefel de Estudos Brasileiros da Universidade Estadual de San Diego na Califórnia, para produzir matérias sobre justiça ambiental nas favelas fluminenses.
Sobre a autora: Kaolin Maxakali, da etnia Maxakalí, é jornalista independente e comunicadora popular, coordenadora da Mídia Independente Coletiva (MIC) e comunicadora na Associação dos Povos Originários (APORI). Atualmente, reside em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
A crise climática é um fenômeno global, mas seus impactos são profundamente desiguais. Enquanto países ricos e corporações multinacionais são os maiores emissores históricos de gases do efeito estufa, são os grupos historicamente vulnerabilizados—como povos indígenas, comunidades quilombolas e afro-brasileiras, populações periféricas, ciganos e ribeirinhos—que sofrem as consequências mais devastadoras.
Apesar disso, essas comunidades na linha de frente dos impactos ambientais raramente ocupam espaços centrais nas arenas de decisão sobre políticas climáticas, seja em fóruns locais, nacionais ou internacionais. A exclusão destes grupos está enraizada em um sistema que naturaliza sua invisibilização política. Enquanto enfrentam diariamente as consequências do extrativismo predatório e da degradação ambiental, seus corpos e saberes—essenciais para o combate às mudanças climáticas—permanecem ausentes dos painéis de ‘especialistas’ e das mesas de negociação.
Essa dinâmica de apagamento se reproduz desde as câmaras municipais até as conferências da Organização das Nações Unidas (ONU), quaisquer locais onde reside o poder decisório. Assim sendo, políticas como licenciamento ambiental e zoneamento urbano são impostas sem qualquer mecanismo de participação cidadã efetiva.
Grandes empreendimentos são aprovados em audiências públicas realizadas em horários inacessíveis às populações afetadas. Têm divulgação restrita a canais formais como diários oficiais e sites institucionais). Com isso, as comunidades não recebem informações em linguagem acessível sobre os impactos de megaprojetos—inclusive de remoções, aumento de alagamentos ou riscos de deslizamentos.
Ao mesmo tempo, o poder público ignora deliberadamente espaços já existentes de organização popular, como associações de moradores e conselhos comunitários, que poderiam servir como base para processos participativos. O Estatuto das Cidades prevê a participação popular em tomadas de decisão de interesse social. Essa participação factual poderia incluir assembleias territoriais prévias, com tradução para línguas nativas e de imigrantes e adaptação para analfabetos funcionais; e criação de comitês populares com poder de veto sobre intervenções que afetem diretamente suas moradias e territórios.
O resultado dessa negligência do Estado é uma política climática que, ao não reconhecer essas vozes como legítimas detentoras de conhecimento, perpetua um ciclo de injustiça, onde os mais impactados são justamente os menos ouvidos.
Os mais impactados são justamente os menos ouvidos.
Racismo Ambiental, Desigualdade Estrutural: Impactos nas Favelas e Periferias do Rio de Janeiro
O conceito de racismo ambiental foi originalmente cunhado pelo ativista Benjamin Chavis nos anos 1980, durante protestos contra a instalação de aterros tóxicos em comunidades de maioria negra no condado de Warren, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
Tania Pacheco, pesquisadora brasileira, destaca que o racismo ambiental não exige intenção explícita, mas se consolida através de impactos racializados, como a grilagem e garimpo em terras indígenas. Thuane Nascimento, do Perifa Connection, destaca que a justiça climática é fundamental para as periferias que enfrentam cotidianamente condições precárias de vida e racismo ambiental. Rejany Ferreira, geógrafa da Rede CCAP, uma organização local de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, reforça que, nas favelas, a questão ambiental se manifesta na dupla exclusão: falta crônica de saneamento e marginalização política.
No Brasil, esse fenômeno se manifesta na exposição sistemática de comunidades negras, indígenas e periféricas a inúmeros riscos—desde contaminação da água por garimpo ilegal de mercúrio em Tarumã, bairro de Manaus onde vivem indígenas migrantes, a poluição do ar e risco de deslizamento por conta da expansão imobiliária na Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo. Além disso, cerca de 70% da população sem acesso a saneamento no país é preta, parda ou indígena. Para indígenas vivendo em áreas urbanas fora de terras indígenas, o acesso à água é 3,7 vezes mais precário (10,08%) do que para o resto da população urbana do país (2,72%).
Nas favelas do Rio de Janeiro, o abandono do poder público, que negligencia planejamento ambiental e investimentos em infraestrutura essencial, é, muitas vezes, agravado por habitações superlotadas, ausência de saneamento e falta de ventilação natural. A ausência de políticas públicas eficazes transforma esses territórios em zonas de sacrifício, onde o direito à saúde da população é diretamente impactado por um ciclo perverso de exclusão socioambiental e negligência institucional. Essa realidade se repete com nuances ainda mais cruéis em outras periferias do Grande Rio. Exemplos estão no complexo de favelas de Coelho Neto e arredores, no Rio das Pedras e no Rio Faria-Timbó, completamente poluídos por esgoto não tratado e resíduos industriais. Antes espaços de lazer, trabalho e renda, hoje, se transformaram em vetores de doenças e contaminação para as comunidades faveladas e ribeirinhas.

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o racismo ambiental se manifesta na normalização de tragédias anuais por conta de enchentes e deslizamentos. O Rio Botas, assoreado e sem manutenção, transborda a cada chuva forte, inundando centenas de casas. Em janeiro de 2024, uma enchente deixou 12 mortos no estado Rio de Janeiro, sendo nove na Baixada. Algumas cidades desta região continuaram debaixo d’água 36 horas após a chuva.
Apesar do seu fechamento em 2012, o Aterro de Gramacho, em Duque de Caxias, ainda gera graves impactos ambientais por conta de seu lixo. Nas comunidades do entorno, como Jardim Gramacho e Vila São João, o solo contaminado continua intoxicando moradores. Pior: o projeto de revitalização da área, que prometia empregos e reparação, beneficiou apenas grandes empresas, enquanto os catadores que trabalharam por décadas no lixão continuam vivendo em condição de extrema pobreza.
Esses exemplos comprovam como o racismo ambiental opera no Rio de Janeiro: através da naturalização da precariedade em territórios periféricos, da violação sistemática de direitos básicos e da concentração de investimentos em áreas já privilegiadas. As favelas e periferias continuam sendo tratadas como zonas de sacrifício—onde vidas negras, indígenas e pobres são consideradas descartáveis.
Apesar da adaptação e resiliência encontradas pelos grupos mais afetados pelo racismo ambiental—como a Aldeia Marakanã, um território ancestral Tupinambá resistente, onde famílias mantêm práticas de medicina tradicional e cultivo de ervas sagradas no coração do Rio de Janeiro ao lado do Maracanã—estas estratégias comunitárias são ignoradas em favor da tecnocracia climática. Este modelo reduz a crise ecológica a equações de carbono, confiando em megaprojetos (como usinas de dessalinização) e mecanismos de mercado (créditos de carbono), muitas vezes implementados sem consulta às comunidades afetadas.
Os fóruns tomadores de decisão precisam resolver este paradoxo, criando mecanismos para que saberes ancestrais tenham peso real nas políticas.
Os fóruns tomadores de decisão precisam resolver este paradoxo, criando mecanismos para que saberes ancestrais tenham peso real nas políticas.
A Falta de Representação em Fóruns Decisórios
Em março de 2025, a Conferência Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, realizada para discutir políticas públicas e ações voltadas à sustentabilidade, revelou contradições profundas entre o discurso socioambiental e suas práticas.
Participantes denunciaram metodologias ineficientes, silenciamento de vozes dissidentes, manipulação na eleição de delegados e descaso com grupos vulnerabilizados, como indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCDs). Foi preciso que houvesse pedido de questão de ordem para que membros da sociedade civil pudessem se manifestar com transparência diante de todos e expor suas questões territoriais, sendo quilombos, favelas ou aldeias indígenas. Dentre as principais reivindicações, o apelo por justiça climática e a pauta sobre racismo ambiental foram priorizadas. Além disso, a escolha de um espaço militar (Espaço Costa Hall, da Aeronáutica) e a falta de acessibilidade levantaram questões sobre a coerência de um evento público, que deveria promover a democracia e a inclusão.
No Brasil, mesmo políticas públicas como o Plano Nacional de Adaptação (PNA), muitas vezes não consultam adequadamente povos indígenas e quilombolas, ignorando seus conhecimentos tradicionais. O Comitê Indígena de Mudanças Climáticas (CIMC), ligado à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), tem lutado para incluir suas demandas nas estratégias nacionais, mas enfrenta resistência de setores governamentais e empresariais.
A participação de comunidades tradicionais e periféricas é limitada por barreiras econômicas, burocráticas e linguísticas também em fóruns internacionais, como as COPs. Parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), as COPs são os principais fóruns internacionais e multilaterais de negociação climática, reunindo anualmente representantes de 197 países, além de cientistas, empresas e organizações da sociedade civil.
A importância das COPs reside em sua capacidade de pressionar nações a assumirem responsabilidades históricas e criarem marcos legais para a transição ecológica. Apesar da participação formal de povos indígenas e comunidades vulneráveis em espaços paralelos, como o Pavilhão dos Povos Originários, as decisões finais são dominadas por governos e corporações, frequentemente resultando em compromissos pouco ambiciosos ou não vinculantes.
As decisões finais são dominadas por governos e corporações, frequentemente resultando em compromissos pouco ambiciosos ou não vinculantes.
A COP30 e a Oportunidade para uma Virada Inclusiva
A escolha de Belém como sede da COP30 em 2025 foi recebida com esperança por movimentos socioambientais, que viram na decisão a oportunidade de colocar a Amazônia e seus povos no centro do debate climático global. No entanto, os preparativos para o evento já revelam contradições profundas que ameaçam transformar a conferência em mais um capítulo de exclusão e violação de direitos.

A participação efetiva de comunidades tradicionais segue sendo o principal obstáculo. Enquanto corporações e governos investem milhões em estratégias de marketing e delegações, lideranças indígenas e quilombolas enfrentam barreiras como exigência de documentação de difícil acesso e cara, além de processos seletivos pouco transparentes para atuar na COP30.
O greenwashing corporativo também preocupa. Empresas como a Vale do Rio Doce, responsável por alguns dos maiores crimes ambientais do país, investem ambiciosamente nas obras de infraestrutura na COP30, obras que já estão deixando um rastro de violações em Belém. Além disso, a especulação imobiliária por conta do evento arrisca expulsar moradores de mais baixa renda das regiões mais centrais da capital paraense.
A COP30 em Belém representa uma encruzilhada histórica: pode ser tanto a consolidação de um modelo climático excludente que privilegia interesses corporativos, quanto o marco de uma virada radical rumo à justiça socioambiental. O verdadeiro legado da conferência não estará nos documentos oficiais, mas na capacidade de transformar estruturas de poder, garantindo que os povos da floresta deixem de ser objetos de políticas para se tornarem sujeitos ativos na construção de alternativas. Os preparativos já em curso mostram que o caminho será árduo, com violações de direitos e greenwashing tentando se sobrepor às vozes ancestrais.
O verdadeiro legado da conferência não estará nos documentos oficiais, mas na capacidade de transformar estruturas de poder, garantindo que os povos da floresta deixem de ser objetos de políticas para se tornarem sujeitos ativos na construção de alternativas.
Para que a conferência não se limite a discursos vazios, a hora é agora para pressionar por mecanismos concretos, como cotas vinculantes para representantes de comunidades tradicionais, com direito a voto efetivo, e tribunais populares, que serviriam de espaço oficial para denúncias e julgamento ético de violações, com participação paritária da sociedade civil e de povos originários.
É hora de valorizar os saberes ancestrais desenvolvidos, ao longo de milênios, por povos indígenas e comunidades tradicionais. Seus conhecimentos incluem agroflorestas biodiversas (como as dos Guarani, que combinam cultivos sem devastação), técnicas de controle de queimadas (como as dos Xavante, que usam fogos controlados para regeneração), e práticas de conservação hídrica (como as dos Pataxó, que protegem nascentes através de sistemas de rotação de uso).
Como lembra o cacique Raoni Metuktire: “Quando a última árvore cair, o homem branco vai descobrir que dinheiro não se come”. A COP30 será o teste definitivo para saber se a humanidade consegue aprender esta lição rumo a tempo ou se Belém será palco de mais uma farsa. O futuro do clima se decide no presente, na luta por inclusão radical e reparação histórica.
A COP30 será o teste definitivo para saber se a humanidade consegue aprender esta lição rumo a tempo ou se Belém será palco de mais uma farsa. O futuro do clima se decide no presente, na luta por inclusão radical e reparação histórica.