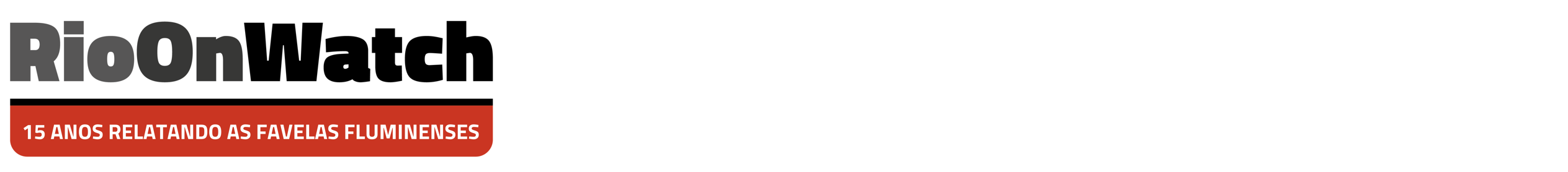Click Here for English
Leia a matéria original por I Gusti Ngurah Krisna Dana, em inglês, no Modern Diplomacy aqui. O RioOnWatch traduz matérias do inglês para que brasileiros possam ter acesso e acompanhar temas cobertos fora do país que nem sempre são cobertos no Brasil.
Na cidade seca e ensolarada de Cochabamba, Bolívia, o ano 2000 marcou mais do que apenas o início de um novo milênio. Marcou uma virada no debate global sobre a água: quem a controla, quem lucra com ela e quem, em última instância, paga o preço. Quando o governo boliviano entregou o controle do sistema de água de Cochabamba para a Aguas del Tunari—um consórcio liderado pela empresa estadunidense Bechtel—a lógica seguiu um roteiro já bastante conhecido. Foi dito que o setor privado faria a gestão da água de forma mais eficiente, investiria na infraestrutura necessária e, finalmente, resolveria a falta crônica de água na cidade.
Ao invés disso, o que aconteceu foi uma convulsão social.
Quase da noite para o dia, o custo da água triplicou. Os moradores eram obrigados a pagar pela água mesmo quando ela vinha de barris de chuva ou de poços privados. Famílias que antes viviam com alguns dólares por dia tiveram que escolher entre comprar água e alimentar os filhos. Esta necessidade básica de sobrevivência tornou-se um luxo. Diante disso, o povo resistiu. Em um levante extraordinário conhecido hoje como a “Guerra da Água de Cochabamba”, milhares marcharam pelas ruas, exigindo que a água voltasse às mãos do setor público. A luta do povo se tornou um poderoso símbolo de resistência à comoditização da água e, no final, eles venceram. O governo foi forçado a rescindir o contrato de privatização e o setor público retomou a gestão da água (Oscar Olivera, 2004).
Cochabamba não foi a primeira cidade a privatizar sua água, tampouco foi a última. Mas sua história jogou luz sobre uma verdade que só se tornaria mais evidente nas décadas seguintes: quando tratada como mercadoria, a água frequentemente gera desigualdade, exclusão e indignação pública. À medida que as necessidades globais de água aumentam com a urbanização e as mudanças climáticas, nunca foi tão urgente reverter a privatização e recuperar a gestão pública deste recurso.
O argumento a favor da privatização foi construído com base na promessa de maior eficiência, melhor gestão e financiamento sustentável. Alegou-se que o setor privado corrigiria as ineficiências de estatais engessadas e tornaria a prestação de serviços públicos essenciais mais profissional. Mas a realidade tem falhado repetidamente em corresponder à retórica. Em uma cidade após a outra, a privatização da água gera preços exorbitantes, manutenção inadequada e negligência das comunidades de baixa renda. Em lugares como Jacarta, capital da Indonésia, Filipinas, Gana e partes dos Estados Unidos, o legado da privatização tem, geralmente, consistido em contas de água mais altas, falta de transparência e infraestrutura deteriorada (Lobina & Hall, 2007).
Por outro lado, experiências com gestão pública das águas—quando devidamente apoiadas—têm sido muito mais promissoras. Considere, por exemplo, Paris. Durante 25 anos, duas gigantes do setor privado—Veolia e Suez—geriram o sistema de água da cidade. No entanto, em 2010, a prefeitura de Paris decidiu retomar a gestão dos seus serviços de água. Foi criada uma nova empresa pública, a Eau de Paris, com transparência total e compromisso com a responsabilidade como princípios fundamentais. Os resultados foram rápidos e impressionantes. Os preços da água caíram 8% no primeiro ano. As economias obtidas com o corte das margens de lucro corporativas foram reinvestidas em melhorias do sistema. A participação dos cidadãos aumentou e a cidade passou a tratar a água não apenas como um recurso, mas como uma responsabilidade cívica compartilhada (Pigeon, 2012).
O que Paris e Cochabamba revelam—apesar de estarem separadas por geografia, idioma e contexto—é que, quando as pessoas têm voz na gestão de sua água, os resultados não são apenas mais justos, mas também mais sustentáveis. Acabar com a privatização da água, então, começa com uma mudança de consciência. A água não deve mais ser vista através das lentes da oferta e demanda, do custo e lucro. Deve ser entendida como um bem comum—um recurso universal e compartilhado, essencial à própria vida. Essa mudança conceitual é vital. Quando a água é enquadrada como um bem comum, sua gestão prioriza a equidade, não o lucro; a sustentabilidade a longo prazo, não no ganho a curto prazo; o bem-estar das comunidades, ao invés do balanço patrimonial dos acionistas.
Esta visão já começou a se consolidar. Em 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu oficialmente o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano (Resolução 64/292). Esse reconhecimento estabeleceu uma base jurídica e moral crucial para que os países resistissem e, até mesmo, revertessem a privatização da água. O Uruguai levou esse princípio ainda mais longe. Em 2004, o país realizou um referendo nacional no qual o povo votou para realizar uma emenda à Constituição, declarando que os serviços de água e saneamento deveriam ser prestados exclusivamente por autoridades públicas. A emenda tornou ilegal a privatização do abastecimento de água, uma medida ousada que posicionou o Uruguai como líder no movimento global por justiça hídrica.
No entanto, leis por si só não bastam. A propriedade pública deve ser acompanhada de investimento público. Muitos serviços públicos de água, especialmente no Sul Global, sofrem com décadas de subfinanciamento, o que os torna vulneráveis ao discurso da privatização. Fortalecer as empresas de serviços públicos significa equipá-las com os recursos financeiros e técnicos necessários para operar com eficiência. Significa também investir no lado humano do serviço público: formar engenheiros, planejadores e gestores comunitários que estejam comprometidos em fornecer água limpa não para fins lucrativos, mas para as pessoas.
O engajamento comunitário é outro pilar dessa transformação. Quando os sistemas hídricos são geridos de forma transparente e com genuína participação pública, a confiança é restaurada. As pessoas sentem um senso de propriedade, não apenas em relação à infraestrutura, mas em relação ao futuro. Esse modelo participativo é visível em lugares como Bogotá e Berlim, onde moradores fizeram campanhas bem-sucedidas para colocar os sistemas de água sob controle democrático. O processo de orçamento participativo em Porto Alegre oferece outro exemplo inspirador de como os cidadãos podem influir nos serviços públicos—incluindo a água—por meio da democracia deliberativa.
O movimento para acabar com a privatização da água também é transnacional. Em todos os continentes, organizações da sociedade civil, sindicatos e líderes municipais estão formando coalizões para resistir aos esforços de privatização e promover soluções públicas. Redes como o projeto Futuros Públicos do Instituto Transnacional e o sindicato internacional de servidores públicos estão conectando ativistas, formuladores de políticas e pesquisadores para compartilhar estratégias, expor abusos corporativos e criar pressão política. O resultado é um corpo de conhecimento e de ação cada vez maior, conhecido como o movimento de “remunicipalização”. De acordo com um relatório de 2020, mais de 300 casos de remunicipalização da água ocorreram nos últimos 20 anos, em 37 países (Kishimoto et al., 2020).
Nada disso é fácil. Contratos de privatização muitas vezes são atrelados a acordos internacionais vinculativos. O lobby empresarial continua poderoso. E a confiança pública no governo—abalada por décadas de austeridade e má gestão—leva tempo para ser reconstruída. Mas a maré está mudando.
Acabar com a privatização da água não é um sonho utópico. É uma necessidade prática. Está enraizada na experiência vivida por milhões de pessoas que sofreram sob sistemas movidos pelo lucro. Ela é apoiada por evidências, defendida pelas comunidades e agora cada vez mais respaldada pelo direito internacional.
À medida que as mudanças climáticas intensificam a escassez de água e que as populações urbanas aumentam, o imperativo é claro: devemos recuperar a água como um bem público. Não se trata apenas de gestão técnica. Trata-se de justiça. Trata-se de democracia. Trata-se do futuro que queremos deixar para trás.
Cochabamba nos ensinou que as pessoas comuns, quando unidas, podem deter até as corporações mais poderosas. Paris nos ensinou que as cidades podem administrar a água de forma justa e eficaz. E o mundo de hoje nos ensina que temos a responsabilidade e a capacidade de acabar com a privatização da água—de uma vez por todas.
Que o fluxo retorne—não para os lucros privados, mas para as mãos do povo.
Sobre o autor: I Gusti Ngurah Krisna Dana é conferencista do Departamento de Governo da Faculdade de Ciência Política e Social na Universidade de Warmadewa, em Bali, na Indonésia.