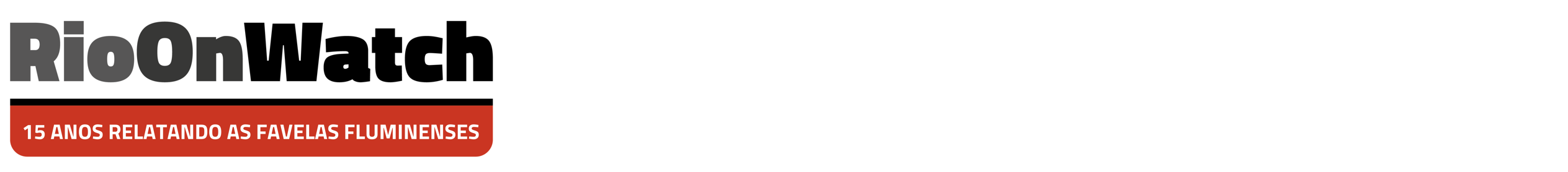Click Here for English
Leia a matéria original por Júlia Dias Carneiro, em inglês, no The Guardian aqui. O RioOnWatch traduz matérias do inglês para que brasileiros possam ter acesso e acompanhar temas ou análises cobertos fora do país que nem sempre são cobertos no Brasil.
 Uma nova exposição na cidade do Rio de Janeiro analisa como a água, o meio ambiente e os eventos climáticos extremos se entrelaçam com histórias pessoais de 10 comunidades marginalizadas
Uma nova exposição na cidade do Rio de Janeiro analisa como a água, o meio ambiente e os eventos climáticos extremos se entrelaçam com histórias pessoais de 10 comunidades marginalizadas
Letícia Pinheiro cresceu ouvindo histórias sobre o Rio Acari. Sua avó se banhava em suas águas limpas; seu pai caçava sapos nas margens; e muitos da comunidade tiravam dali seu sustento com a pesca.
Hoje, com 28 anos, Letícia e seus pares já nem o chamam mais de rio. Virou um valão, um canal aberto de esgoto e lixo, margeando a favela de Acari, que foi se expandindo por um terreno alagadiço na Zona Norte do Rio de Janeiro a partir dos anos 1920.
As enchentes que seguem às fortes tempestades tropicais sempre foram um problema para essa comunidade. Mas, com os eventos climáticos extremos se tornando mais intensos e frequentes, o rio passou a ser visto cada vez mais como o grande vilão. Em janeiro do ano passado, uma enchente sem precedentes fez suas águas invadirem os lares de 20.000 pessoas.

“Quando alaga, todo o Complexo de Acari é afetado. A chuva traz uma ansiedade enorme, e as pessoas veem o rio como algo de extremamente negativo.” — Letícia Pinheiro, Coletivo Fala Akari
Tragédias repetidas levaram moradores a construírem casas mais altas para poderem morar nos andares superiores, além de bases de alvenaria para camas e guarda-roupas, buscando evitar a perda de móveis nas enchentes seguintes.
As vivências, passadas e atuais, da família Pinheiro fazem parte das inúmeras memórias resgatadas por uma mostra em cartaz em um museu comunitário do Complexo da Maré. A exposição ‘Memória Climática das Favelas’, reúne depoimentos e dados históricos que mostram como moradores de dez favelas do Rio se relacionam com o clima e a natureza. A partir dos relatos feitos por 400 pessoas de todas as idades em rodas de conversa realizadas nos últimos anos, a mostra discute, ainda, como essas comunidades enxergam e respondem à crise climática.

Para os organizadores, registrar essas memórias é uma forma de promover a justiça climática nas favelas do Rio. Aqui e em outras partes do mundo, assentamentos informais como Acari são desproporcionalmente afetados pelo aquecimento global e por eventos climáticos extremos devido a desafios combinados como a pobreza, moradias superlotadas e precárias, exposição desproporcional a riscos ambientais e poluição, violência policial e de facções criminosas, além do acesso limitado a serviços básicos.
Theresa Williamson, urbanista e ambientalista radicada no Rio, afirma:
“A memória é essencial para resolver a crise climática, porque o sentimento de pertencimento dá às pessoas uma identidade e uma conexão com seu território. Quando a gente conhece o ambiente onde vive—o solo, as árvores, a história compartilhada—a gente se importa com aquele lugar. A gente desenvolve um sentido de compromisso.”

Brasileira por parte de mãe, Theresa é uma voz ativa em defesa das favelas do Rio há mais de 25 anos. Em 2000, fundou a organização Comunidades Catalisadoras (ComCat) para promover o desenvolvimento das favelas. Em 2018, a entidade articulou o que se tornou a Rede Favela Sustentável (RFS), responsável pela exposição e formada por mobilizadores de mais de 300 favelas que lutam por justiça climática. “Favelas não são assentamentos temporários”, diz ela. “São comunidades consolidadas, que existem há gerações e onde nasceu grande parte da cultura associada ao Rio, desde o carnaval e a informalidade do carioca, ao passinho.”
“Essas comunidades vieram para ficar. Quando é que vamos garantir a infraestrutura e os direitos básicos a que elas têm direito e enfrentar as desigualdades históricas que ficam tão evidentes nesta exposição?” — Theresa Williamson, ComCat
A linha do tempo da exposição mostra como o clima e o meio ambiente se entrelaçam com as histórias dessas comunidades. Revela como as pessoas transformaram seu entorno, como a precariedade as tornou vulneráveis a desastres climáticos, e como, repetidamente, as autoridades usaram tais eventos como argumento para empurrar os moradores das favelas para as margens da cidade.

Banners, fotos e manchetes de jornal dispostos na mostra relembram tragédias históricas do Rio, como a “enchente do século”, de 1966, e outra no ano seguinte, que mataram centenas de pessoas e deixaram 50.000 desabrigadas. As imagens também revelam como o desenvolvimento da cidade sempre dependeu da força de trabalho dos mais pobres, sem jamais garantir a eles condições dignas de moradia. Acari e Maré cresceram nos anos 1940, quando trabalhadores de várias partes do Brasil chegaram para construir a Avenida Brasil—principal via expressa da cidade—e se estabeleceram ao redor dos canteiros de obras.

Os assentamentos informais começaram a surgir nos morros do Rio depois da abolição da escravidão, em 1888, quando ex-escravizados ficaram sem ter para onde ir. Nas décadas seguintes, ondas de migrantes de várias partes do Brasil foram chegando à então capital em busca de trabalho e oportunidade, fazendo essas comunidades de classe trabalhadora se multiplicarem.
Hoje, quase um em cinco cariocas vive em favelas. Em nível nacional, elas concentram 8% da população brasileira—cerca de 17 milhões de pessoas. A maioria está localizada em áreas urbanas: segundo o Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 84% das favelas têm acesso à água e três quartos contam com algum tipo de saneamento. Até o ano passado, essas comunidades eram classificadas pelo IBGE como “aglomerados subnormais”.

Apesar da visão oficial sobre favelas, a exposição evidenciou a força e a potência desses territórios, reunindo moradores e lideranças comunitárias de diversas partes do Rio no lançamento realizado no Museu da Maré. Representantes de cada comunidade compartilharam relatos comoventes de dificuldades e resistência, revelando uma história comum que muitos, mesmo vivendo em favelas distantes entre si, ainda não haviam percebido.

Marli Damascena, 64 anos, recorda a comunidade de pescadores que existia na Maré, de onde é cria. Quando era pequena, nos anos 1960, Marli via a imensidão da Baía da Guanabara da janela da casa construída por seu pai, migrante cearense. Um dia, o mar sumiu, aterrado para afastar as águas para mais longe. No lugar, foram construídos conjuntos habitacionais para reassentar os moradores dos barracos precários sobre palafitas, erguidos nas margens lamacentas do manguezal da baía.
“Eu assisti ao mar ser aterrado quando era criança, mas aquilo parecia normal. Olhar para trás nos permite entender as transformações drásticas pelas quais passamos e o quanto isso tudo nos afetou”, diz Marli, cofundadora do Museu da Maré. O nome “Maré” remete às águas de antigamente e o museu abriga uma réplica em tamanho real de uma palafita: as casas sobre estacas que, por anos, escancararam a pobreza e a desigualdade diante dos olhos de quem passava de carro a caminho do aeroporto internacional do Rio.

A mãe de Leonardo Souza morou em uma dessas casas. Mas não teve a sorte de ser reassentada dentro da própria Maré. Junto com aproximadamente 400 famílias, ela foi transferida para Antares, a cerca de 60 km de distância, onde Leonardo cresceu, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste.
Durante as rodas de memória do projeto, Leonardo se emocionou ouvindo outros moradores falarem desse período, traumático para seus pais, ambos migrantes nordestinos. O trajeto que o pai fazia em cinco minutos até o trabalho se transformou numa viagem de duas horas, nos dois sentidos, todos os dias.
“Essas políticas foram motivadas pela higienização social—as autoridades queriam mostrar aos visitantes uma cidade bonita e esconder a pobreza.” — Leonardo Souza
A ocupação de Antares teve início em 1975, embora muitas das casas de alvenaria prometidas ainda estivessem inacabadas. À medida que moradores de outras favelas iam sendo realocados e famílias se multiplicavam, a comunidade foi crescendo de forma desordenada.
Essa expansão foi desmatando áreas arborizadas, e construções foram surgindo às margens dos rios, que foram ficando mais propensas a inundações. Com o crescimento das favelas pressionando as áreas verdes de Santa Cruz, o bairro se transformou num dos mais quentes da cidade.
“Santa Cruz é conhecida por ter as temperaturas mais altas do Rio, mas as rodas de memória climática nos lembraram dos tempos mais frescos”, conta Leonardo, que recentemente plantou 1.000 árvores na comunidade com apoio da Prefeitura numa tentativa de aplacar o calor sufocante.
Hoje, Leonardo é estudante de história e se dedica a reconstruir o passado da comunidade. A exposição foi construída por moradores como ele de museus comunitários com o objetivo de resgatar as “memórias climáticas”.
A devastação e os riscos ambientais fazem parte da história dos assentamentos informais. Historicamente, o desmatamento tem acompanhado o crescimento das favelas, assim como a poluição dos cursos d’água devido à falta de saneamento, do descarte inadequado de resíduos e das tragédias causadas por enchentes e deslizamentos. Os organizadores destacam que essas questões há muito exigem investimentos públicos.

“É contraproducente criminalizar uma enorme parcela da humanidade por tentar suprir uma necessidade básica de moradia vivendo de modo informal”, diz Theresa Williamson. “Não há motivo para que essas comunidades não sejam urbanizadas e integradas à cidade—não investir nelas é uma decisão política. O descaso é uma decisão política.”
Segundo a ONU, quase um quarto da população das cidades em todo o mundo vive em assentamentos informais. Essa população urbana deve chegar a 3 bilhões de pessoas até 2050. Theresa espera que os dados históricos coletados para a exposição ajudem a preencher uma lacuna crítica num contexto em que as políticas climáticas costumam se concentrar em biomas como a Amazônia ou o Pantanal—mas raramente contam com dados sobre territórios urbanos socialmente vulneráveis.
A memória também é uma forma de resistência. “É uma maneira de denunciar o apagamento sistemático da nossa história como parte do nosso compromisso com o que vem depois”, diz Letícia Pinheiro. Isso é ainda mais crítico agora, com sua comunidade tendo de lidar com outra forma de apagamento devido à crise climática. “As enchentes seguidas estão fazendo nossas famílias perderem fotografias, documentos e pertences”, conta Letícia. “As mudanças climáticas impõem muitas perdas, não só as materiais.”